Crônicas

Traumas da Era Analógica
As crianças de hoje não sabem a vergonha de colocar uma fita toda emaranhada no balcão de uma locadora de vídeos e explicar que o seu videocassete mastigou a única cópia deles do ET - O Extraterrestre.
Elas nunca experimentaram o terror existencial de ver aquela fita VHS preciosa ser engolida pela máquina, seguido pelo som mais horripilante do universo: o ranger mecânico que anunciava que seu domingo e sua reputação estavam oficialmente arruinados.
E então vinha a operação de resgate desesperada. Abrir o videocassete como um cirurgião nervoso, extrair delicadamente metros e metros de fita magnética com a precisão de quem desarma uma bomba. Tentar enrolar tudo de volta usando um lápis e o dedo indicador, enquanto suava frio pensando no olhar do Sr. Mendonça, dono da "Vídeo Mania" da esquina.
"Foi só um probleminha técnico," você ensaiava no espelho. "Essas coisas acontecem, né?"
Rebobinar a fita era obrigatório – "Seja gentil, rebobine" – mas devolver a fita destruída? Isso não estava no manual de etiqueta da locadora.
No dia seguinte, com a fita escondida na mochila como se fosse contrabando internacional, você entrava na locadora tentando parecer casual. "Oi, tudo bem? Vim só devolver essa fitinha aqui..."
Colocar o ET mutilado no balcão era como confessar um crime. O funcionário pegava a caixa, abria, e então acontecia: aquele olhar. Uma mistura de decepção, julgamento e um silencioso "você destruiu a magia de Spielberg, seu monstro."
As crianças de hoje apertam um botão e pronto, outro filme aparece na tela. Elas nunca conhecerão a negociação desesperada: "Eu pago a multa, mas por favor, não conte para a minha mãe!" Nunca terão que explicar por que o ET, em vez de voar de bicicleta pela lua, agora parecia ter sido atingido por um liquidificador.
E tem mais: a humilhação pública! Porque sempre havia uma fila atrás de você. Sempre. Geralmente incluindo algum colega da escola ou, pior, aquela pessoa que você estava tentando impressionar. "Nossa, você destruiu o ET? Eu ia alugar esse filme hoje..."
O dono da locadora então fazia aquele discurso sobre responsabilidade, enquanto verificava seu cadastro para ver se você era um "cliente problema". Seu histórico de locações sendo investigado como ficha criminal: "Hmmm, já é a segunda fita este mês..."
As crianças de hoje streamam, baixam, clicam e assistem. Seus erros são apagados com um simples ctrl+alt+del. Elas nunca sentirão o peso dramático de carregar uma fita danificada, nem a necessidade de elaborar uma história mirabolante sobre como "já estava assim quando abri a caixa, juro!"
Hoje, se um filme trava online, é culpa da internet, do serviço de streaming, da operadora, do satélite, de qualquer coisa menos sua. Que luxo não ter que assumir a responsabilidade por destruir a única cópia do blockbuster do verão, bem na época natalina!
O máximo que podem experimentar é um buffer de carregamento ou uma mensagem genérica de "erro no servidor". Onde está a adrenalina? Onde está o drama? Onde está a vergonha formadora de caráter?
Tenho certeza que os terapeutas do futuro terão sessões muito menos interessantes. "Doutor, ainda tenho pesadelos em que estou na locadora e o ET derretido escorre pelos meus dedos enquanto toda a fila atrás de mim grita 'destruidor de clássicos!'"
As crianças de hoje... elas nunca saberão como um simples passeio à locadora podia se transformar em uma aula de engenharia amadora, seguida por um curso intensivo de relações públicas e gerenciamento de crise.
E francamente? Eu meio que sinto inveja delas.
© 2023 Joe Bacchin. Todos os direitos reservados.
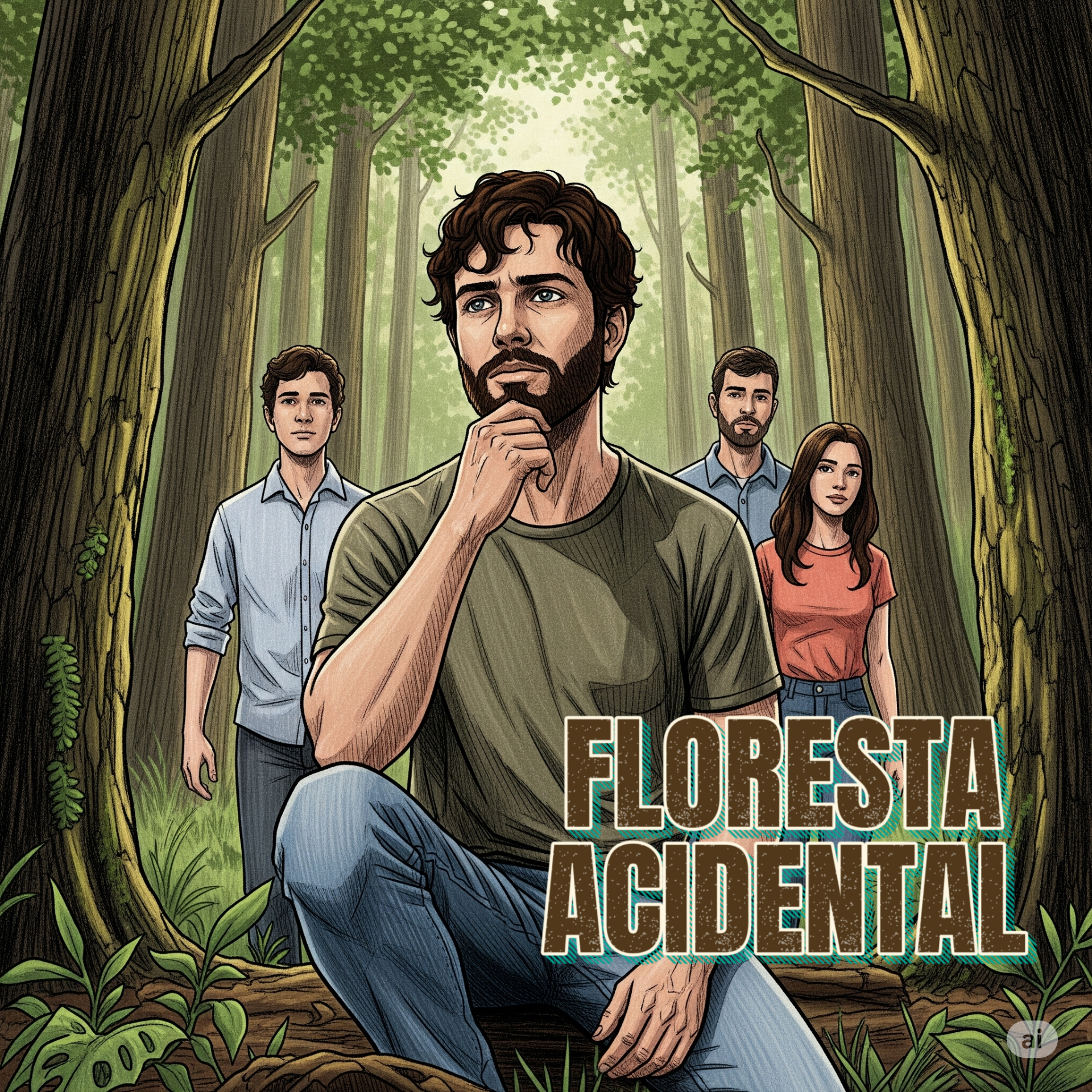
A Floresta Acidental
Aos 30 e poucos anos de idade, eu não sabia que estava plantando uma floresta. Achava que simplesmente estava tropeçando pela vida, com um café frio na mão, um apartamento que cheirava a mofo e sonhos de largar tudo para viver em uma van no Havaí. Mas ali, entre as rachaduras do asfalto e as noites mal dormidas, eu estava semeando amizades. E, como toda boa semente, elas não avisam quando vão brotar.
Teve o Andre Alexandre, que me encontrou chorando no banheiro de um bar porque eu já tinha feito bobagens suficientes na vida e não precisava ter feito mais uma. Ele não me julgou nem nada, só me passou uma cerveja quente e falou: "A gente sobrevive, sabe?" E sobrevivi. Teve o Rogerio Lagatta, que, junto de sua namorada peruana, me arrastou pra um rolê na night, e a gente dançou até o sol raiar, como se o mundo não tivesse contas a pagar. E a Patricia Lins, que me mandava torpedos às três da manhã ou me ligava só pra contar que ia fazer macarrão com frango, brócolis e creme de leite e me esperava. Às vezes eu nem ia, mas saber que tinha aquele prato quente me esperando já era um abraço. Pequenas coisas. Raízes frágeis, mas teimosas.
Eu não regava essas amizades com grandes gestos. Não ligava muito pra guardar as datas de aniversários deles — e, verdade, eu sempre esquecia — ou mandar cartões postais quando viajava para algum lugar diferente.
Mas a gente ria junto, dividia pizza requentada, confessava medos no escuro. E, sem que eu percebesse, essas raízes foram se entrelaçando, se aprofundando na terra da vida. Na faixa dos trinta, você não pensa em árvores. Você pensa na grana que nunca sobra, na paquera que não te liga de volta, no futuro que parece um monstro debaixo da cama. Mas as árvores crescem mesmo assim.
Anos depois, quando a vida bateu mais forte — e ela bate, como um vento gelado que arranca o ar dos pulmões —, eu olhei ao redor e lá estava a floresta. Andre Alexandre, com sua velha caminhonete, me resgatou quando tudo desmoronou - e eu nem merecia isso. Rogerio Lagatta me levou pra tomar um café e me fez lembrar que eu sabia rir. Patricia Lins apareceu com uma garrafa de vinho e disse: "Conta tudo, mas só depois que eu der uns vinte goles." Eles eram minha floresta acidental, um lugar que eu não planejei, mas que me salvou.
Às vezes, penso neles como personagens de um livro que eu não sabia que estava escrevendo. Como se um mestre do suspense tivesse desenhado o cenário — um pouco sombrio, com névoa e aquele frio que gruda nos ossos —, mas uma escritora de comédias românticas tivesse escrito os diálogos, cheios de coração e verdades retas. E uma dupla de autoras conhecidas por suas histórias doces polvilhou a doçura, aquele calor que faz você acreditar que, mesmo no meio do caos, o amor sempre acha um jeito. Amor de amigos, de alma, de vida.
Então, se eu puder te dizer uma coisa, é isso: alimente suas amizades. Regue-as com mensagens mesmo que sejam bobas, com silêncios que não precisam de explicação, com abraços que dizem o que as palavras não alcançam. Por volta dos trinta e poucos, você não sabe, mas cada risada compartilhada, cada segredo trocado, é uma semente. E um dia, quando o mundo parecer perigoso demais, você vai olhar ao redor e ver que está cercado por árvores. Uma floresta acidental que você plantou sem querer. E ela vai te salvar.
© 2023 Joe Bacchin. Todos os direitos reservados.
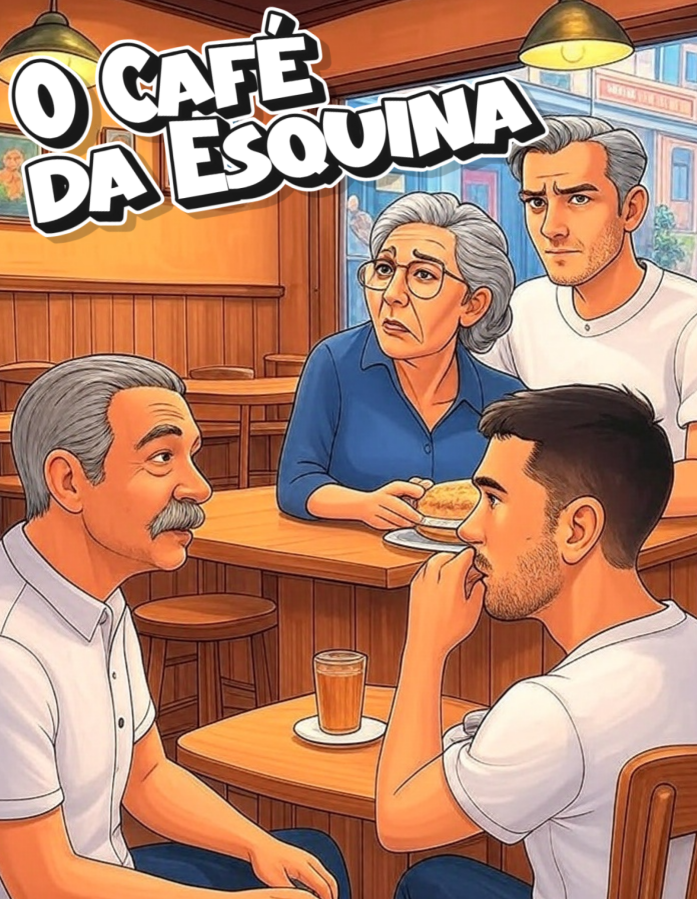
O Café da Esquina
Na minha rua, o Café da Esquina é mais que um balcão de pingado e pão na chapa. É o coração do bairro, onde o Seu Zé, dono de um bigode que parece ter vida própria, comanda as conversas como um mestre de cerimônias do cotidiano. Todo dia eu passo ali às sete da manhã e peço meu café com leite – "rapidinho, Seu Zé, que hoje tô atrasado" – e fico ouvindo o mundo girar em torno daquelas mesas cujos tampos de verniz exibem marcas de copos arrastados e dedos inquietos.
Era verão, uma segunda-feira qualquer, daquelas que já começam no modo piloto automático. Entrei, cumprimentei a Dona Neide, que estava no canto reclamando do preço do tomate, e notei um novato: um cara de uns 30 anos, barba rala, celular na mão, digitando como se a vida dele dependesse disso. Não era um rosto conhecido do bairro, o que logo chamou minha atenção. Pedi meu café e fiquei de olho. Seu Zé, com aquele radar de avô curioso, já foi logo puxando papo: "Tá perdido, rapaz? Ou é turista que caiu aqui por engano?"
O cara riu, meio sem jeito, e guardou o celular. "Não, Seu Zé, vim de propósito. Cresci ouvindo minha mãe falar do seu café. Ela dizia que era o melhor pão com mortadela do mundo." Aí ele contou: a mãe dele, Dona Clara, era freguesa antiga, dos anos 80, antes de se mudar pro Rio de Janeiro. Passava no Café da Esquina todo dia, indo pro trabalho. O pão com mortadela era o ritual dela, o momento de respirar entre o trampo e a vida. Fazia um mês que ela tinha partido, e o cara, Thiago, veio do Rio só pra comer aquele pão, como se fosse uma forma de abraçar a mãe de novo.
Seu Zé ficou quieto, coisa rara. Dona Neide parou de falar do tomate. Eu engoli o café meio emocionado. O bigode do Seu Zé tremeu, e ele foi pra chapa sem dizer nada. Voltou com um pão com mortadela caprichado, mortadela transbordando, e colocou na frente do Thiago. "De graça, rapaz. Pra Dona Clara." Thiago comeu devagar, olhando pro nada, como se cada mordida trouxesse a mãe de volta por um momento.
Quando saí, o sol já fritava um ovo na calçada. O Café da Esquina voltou ao normal: Dona Neide falando do governo, Seu Zé tirando sarro de algum time de futebol. Mas eu sabia que, naquele dia, aquele pão com mortadela tinha sido mais do que um lanche. Era memória, saudade, amor. E, no fundo, é isso que faz a vida valer: Os pedacinhos de nós que a gente espalha por aí, nas pessoas e nos lugares.
© 2023 Joe Bacchin. Todos os direitos reservados.
